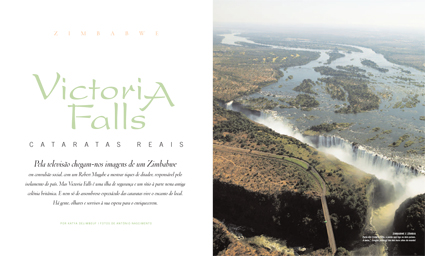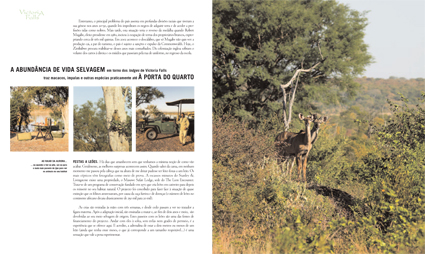O
![]()
BLUE
TRAVEL No. 27 | OUTUBRO 2005
![]()
TODOS
OS TEXTOS © BLUE TRAVEL | KATYA DELIMBEUF
Victoria
Falls
Cataratas
reais
Dos
‘media’ chegam-nos imagens de um Zimbabwe em convulsão
social, com um Robert Mugabe com tiques de ditador, responsável
pelo isolamento do país. Mas Victoria Falls é uma ilha de
segurança e um sítio à parte nesta antiga colónia
britânica. E nem só do assombroso espectáculo das
cataratas vive o encanto do local. Há gente, olhares e sorrisos
à sua espera para o enriquecerem. E imagens de invulgar beleza
para gravar na memória.
O
som – portentoso - é uma das coisas que não vem na
imagem. Por isso, por muitas fotografias que tenhamos visto das quedas,
nada nos prepara para o estrondo, o assombro de pujança e força
da torrente que cai, em grossas colunas de água, ao mesmo tempo
que o vapor se eleva e que o som se nos grava nos olhos. Estamos em Victoria
Falls, as maiores quedas do mundo em extensão: 1,7 km de um impressionante
espectáculo da natureza, a libertar uns inacreditáveis 550
000 m3 de água por minuto…
Não é difícil perceber porque é que os locais
lhe chamam «Mosi-oa-Tunya» - ‘o fumo que troveja’.
É que esta descarga permanente de água gera colunas de fumo
formadas pelo vapor, que atingem uma altura enorme e pulverizam tudo em
volta. E não é também por acaso que as quedas foram
consideradas Património da Humanidade pela Unesco. Esta invulgar
demonstração de força da natureza é de uma
beleza notável…
Desde que David Livingstone, o explorador da Raínha Vitória,
revelou ao Ocidente a existência das cataratas (baptizadas em honra
da sua Raínha), em 1855, foram cada vez mais as pessoas que vieram
admirá-las. Actualmente, recebem cerca de 300 milhares de visitantes
por ano. Como nós, que fazemos o mesmo.
Vimos pela primeira vez as Cataratas a partir da ponte que é também
a fronteira entre o Zimbabwe e a Zâmbia. Daqui, tem-se vista directa
para as «Main Falls», o troço principal deste impressionante
espectáculo da natureza que se estende por 1700 metros de comprimento.
Ao lado da Catarata do Diabo, lá está o arco-íris
que as imagens imortalizaram como símbolo das Victoria Falls -
entre dois vales, mágico, como no ‘Feiticeiro de Oz’.
Eddie, o nosso guia, vai-nos levando para inúmeros ‘miradouros’,
donde se podem observar as quedas dos mais diversos ângulos. Por
vezes, o ‘spray’ envolve tudo numa névoa, e parece que
estamos em plena paisagem escocesa. Em determinadas zonas, o vapor de
água é tão espesso que chove mesmo, e é preciso
andar de guarda-chuva e oleado.
Eis-nos agora chegados às ‘Main Falls’, o principal troço
das cataratas. Impossível não abrir a boca de pasmo e deslumbramento.
É uma autêntica ‘parede’ de água, a despejar
litros e litros de uma altura de 107 metros, com um rugido, o ‘spray’
a elevar-se quase até ao planalto onde nos encontramos. O fluxo
é imenso, o som poderosíssimo. É uma visão
incrível, e a sensação de energia positiva é
intensa, como se o coração da terra pulsasse aqui –
e todas as baterias se recarregassem, enquanto o vapor de água
se espraia sobre nós, banhando-nos com uma camada de pó
divino – ou água benta. Mas a melhor surpresa estava reservada
para a tarde…
O voo dos anjos
O nome diz tudo. Assim se chama o voo de helicóptero por cima das
cataratas. Vamos ter a última perspectiva das quedas que nos faltava:
do ar. Dentro do helicóptero, de auscultadores nos ouvidos para
isolar o barulho do motor e microfone para podermos comunicar, descolamos…
Daqui de cima a vista é privilegiada. Vê-se a savana seca,
o capim amarelo, dourado pelo sol, centenas de árvores… E
lá vamos nós em direcção às gargantas
das cataratas. O rio está lá em baixo, rodeado por escarpas
íngremes, e o helicóptero faz vôos rasantes por cima
da água…
As ervas agitam-se nas pedras, com a proximidade do aparelho. Mas o ponto
alto da viagem são sem dúvida as cataratas propriamente
ditas. Só daqui se tem a noção da dimensão
das quedas, da imensa cortina de água de 1,7 km. São metros
e metros de esplendor e força. Sobrevoamos as ilhas formadas no
meio do rio Zambeze, vemos elefantes e hipopótamos. A meia hora
passa a voar – literalmente.
E se quiser sentir-se como Karen Blixen e Denys Finch Hatton em «Out
of Africa», pode voar num Tiger Moth, a avioneta de 1933 que lhe
proporciona uma sensação de regresso ao passado. Só
há 250 no mundo, actualmente, dos quais este na Zâmbia (atravessámos
a fronteira porque havia falta de gasolina no Zimbabwe) e outro no Botswana.
O combustível dá para duas horas de voo e a experiência
é inesquecível.
«Dr Livingstone, I presume?»
Regressamos ao hotel, o Stanley & Livingstone, a tempo de ver uma
família de elefantes beber água no bebedouro da planície
em frente aos quartos. Situado numa imensa propriedade privada de 6000
hectares, propícia aos «game drives» (passeios para
ver animais), os quartos do S&L são espaçosos ‘bungalows’
independentes, envolvidos por árvores, jardins e vegetação
frondosa, que têm pela frente uma imensa extensão de savana.
Diariamente, acorda-se com vista para os animais: búfalos, macacos,
elefantes...
E ao entardecer, nada como estar no terraço do seu quarto, a apreciar
as cores do sol a despedir-se, e a calma que desce sobre a savana. O perfeito
envolvimento na natureza é uma das mais-valias deste hotel. Outra
é a decoração, que nos transporta no tempo. O Stanley
& Livingstone é um hotel tipicamente britânico, com móveis
de madeira escura, sofás de tecidos adamascados e dezenas de fotografias
de época nas paredes. Facilmente nos sentimos na época vitoriana
– e que melhor do que isso num sítio como Victoria Falls?
A juntar à comida divina – impossível manter a linha
aqui – a adega, muitíssimo bem recheada, fará as delícias
dos apreciadores (uma pista: tem Petrus…).
Uma aldeia, o Mundo
Uma escola, numa aldeia, no Zimbabwe, em Victoria Falls - chamada Monde
(em francês, ‘o Mundo’). Trezentas crianças, quarenta
numa sala de aula. Têm 4 a 6 anos de idade, estão sentadas
em mesas que não são carteiras, olham-nos com olhos imensos,
esbugalhados, quando entramos. Nas paredes há cartolinas com frases
em Ndebele, a língua local (da segunda tribo do Zimbabwe, a seguir
à maioritária Shona), inglês, matemática…
O professor pergunta-nos se queremos que os meninos cantem o hino…
Sim, porque não? A um tempo, levantam-se todos e começam
a cantar. O sangue gela-se-me (aquece?) nas veias. As vozes destes miúdos,
em coro, trazem lágrimas aos olhos. Olho para os meus companheiros
de viagem, confirmo: estamos todos iguais. Forçamos os sorrisos,
endurecemos os maxilares para não chorar. Não é fácil.
Ao sairmos da sala, os miúdos acorrem à janela, a dizer
adeus. Pedem doces, canetas, qualquer coisa. Apanhada desprevenida, desfaço-me
da minha ferramenta de trabalho, a caneta – com pena apenas de não
ter mais 40 comigo. As mãos estendem-se numa confusão, já
nem sei qual a que corresponde ao menino que pediu a esferográfica
- mas isso tão pouco interessa. Agora, à falta de pluma
para escrever, gravo tudo na memória, até arranjar outra
caneta e pôr tudo no papel. Não é difícil.
As vozes daqueles meninos não me saem da cabeça.
Não pense o leitor que estes momentos - intensos, é certo,
duros, por vezes -, tornam uma viagem mais triste ou deprimente. Seguramente
já passou por alguns e, como sabe, são muitas vezes os pontos
altos para o viajante, ocasiões em que toma contacto com o terreno,
cruza olhos com olhos e daí retira emoção. É
o lado humano destas jornadas - as pessoas que conhecemos e as vivências
com que voltamos - que persiste na memória, com a erosão
do tempo.
A aldeia de Monde é grande, tem um total de 75 casas. Uma estrada
de terra batida separa as cabanas de um lado e de outro, galinhas e cabras
correm livremente pelas ruas. Placas de madeira pregadas nas árvores
a dizer «Bus Stop» indicam paragens de autocarro. Duas tribos
vivem aqui: os Ndebele, e os Nambia, com estilos de vida bastante semelhantes
- distingue-os a construção das cabanas ou o machado tradicional
que os acompanha todos os dias. Os Ndebele são descendentes dos
Zulus e dos N’kose, da África do Sul. Lisa, a filha do chefe
de um povoado, acolhe-nos com apurado sentido de hospitalidade. O pai
está fora, numa reunião de chefes da aldeia, e por isso
é ela que faz as honras da casa. Vivem aqui 14 pessoas, uma família,
repartida por uma dezena de cubatas de argila e tecto de colmo. Lisa tem
18 anos, é uma mulher feita, fala um inglês correctíssimo
e tem uma vida bastante diferente daquilo que é comum na maioria
das aldeias africanas. É quase uma ‘mulher moderna’,
para os padrões locais. Tem o 12º ano (o ‘O Level’),
um curso de ‘catering’ e quer continuar os estudos na Universidade,
para licenciar-se em gestão hoteleira.
As mulheres Ndebele costumam casar por volta dos 20 anos, os homens mais
tarde, perto dos 30. Depois de terem filhos, o homem tem de dar o ‘labola’
à mulher – o dote. Antes, costumava ser em gado, agora pode
ser em dinheiro. Apesar de ter seis irmãos, Lisa só quer
ter dois filhos: «um menino e uma menina». Do mesmo modo,
o chefe pode ter o número de mulheres que quiser, mas o pai de
Lisa só quis uma. ‘Pisi’ é o seu ‘nome de
guerra’ – significa ‘hiena’, e foi-lhe dado por ter
sido um bom guerreiro, na guerra civil. O chefe é também
o curandeiro da aldeia. Trata com ervas «mordeduras de cobra venenosa,
doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade e até
cancro», assegura Lisa.
Lisa faz-nos a ‘visita guiada’, e começa pelo seu próprio
quarto. As cubatas são frescas. Há uma divisão para
as raparigas, outra para os rapazes – e todos dormem no mesmo sítio
independentemente do número. A cubata das raparigas só tem
uma janela muito pequenina, «para os namorados não entrarem».
A iluminação faz-se com uma lata de parafina. Também
há uma casa maior no povoado, com janelas grandes - «como
vocês estão habituados», explica Lisa -, para acolher
os viajantes mais aventureiros, que queiram dormir ali e conhecer melhor
o modo de vida local. São habitações simples, com
uma cama e pouco mais.
À frente fica a cozinha, uma cabana grande onde crepita um fogo
em permanência, território das mulheres. É aqui que
as grávidas dão à luz, apesar da fraca ventilação,
porque o local está sempre quente - e é também aqui
que se vem morrer…
Assim como a cozinha é reservada às mulheres, há
um espaço na aldeia para os homens, onde se reúnem para
discutir. Mais adiante, a 500 metros, fica o poço, centro de vida
e peça fundamental na sobrevivência destas pessoas. Ali há
sempre muitas mulheres, a dar à manivela e a encher barris que
depois transportam à cabeça. Este ano ainda é Inverno,
e já a água começa a escassear…
«Não sei como será no verão», confidencia
Lisa, apreensiva.
Quando voltamos, espera-nos o almoço, preparado pelas mulheres.
Comemos o mesmo que eles, ‘sadza’, uma espécie de massa
de pão cru, feita de milho, e vegetais salgados, que se metem no
pão. Come-se com as mãos – o que suscita os risos dos
mais novos, ao verem os ‘estrangeiros’ ajeitarem-se como podem
e lamberem os dedos. Hum… É bom! Dizemos adeus a Lisa e a
toda a família, agradecendo a hospitalidade e o banho de cultura
local. Nem só da visão – magnífica, é
certo – das cataratas vive Victoria Falls. Isto é um pedaço
do verdadeiro Zimbabwe, um pequeno mergulho no país real. Não
falta História ao Zimbabwe, nem tão pouco ligações
a Portugal. Se é verdade que David Livingstone ficaria como aquele
que revelou ao mundo as Victoria Falls - em 1855 - também Serpa
Pinto por lá andou, em 1869, numa expedição ao Zambeze.
O objectivo do nosso administrador colonial era reconhecer o território
e cartografar o interior do continente africano, numa altura em que a
descoberta de ouro tinha já despertado o interesse dos ingleses.
As conexões entre os dois países continuam e remontam a
1890, aquando do ultimato inglês, que se opunha às pretensões
portuguesas de possuir toda a faixa de Angola à contra-costa –
o que incluía o actual Zimbabwe (antiga Rodésia). O nome
‘Rodésia’ vem, aliás, de um imperialista britânico
que tinha em mente uma linha de caminho-de-ferro do Cabo ao Cairo: Cecil
John Rhodes. O braço de ferro entre os dois países foi perdido
por Portugal, e em 1895, a colónia passou a ser designada «África
Central» - da qual a Rodésia do Sul era a parte mais importante,
que incluía ainda a Rodésia do Norte e a Niassalândia.
Quando a Federação se desfez, em 1963, o Reino Unido negou-se
a conceder a independência à Rodésia do Sul, mais
desenvolvida e governada pela minoria branca. Em 1965, esta declarou unilateralmente
a independência, mas só em 1980 o Zimbabwe a viu reconhecida.
Entretanto, o principal problema do país assenta em profundas divisões
raciais que tiveram a sua génese nos anos 20-30, quando leis impediram
os negros de adquirir terra e de aceder a profissões tidas como
nobres. Mais tarde, esta situação teria o reverso da medalha
quando Robert Mugabe, eleito presidente em 1980, incitou à ocupação
de terras dos proprietários brancos, expropriando cerca de 3000
quintas. Em 2002 acontece o descalabro, que só Mugabe não
quis ver: a produção cai, a par do turismo, o país
é sujeito a sanções e expulso da Commonwealth. Hoje,
o Zimbabwe procura reabilitar-se desses anos mais conturbados. Da colonização
inglesa sobram o volante dos carros à direita e os miúdos
que passeiam pela rua de uniforme, no regresso da escola.
Festas a leões
Há dias que amanhecem sem que tenhamos a mínima noção
de como vão acabar. Geralmente, as melhores surpresas acontecem
assim. Quando hoje saltei da cama, em nenhum momento me passou pela cabeça
que na altura de me deitar pudesse ter feito festas a um leão.
Os mais cépticos têm fotografias como meio de prova. A escassos
minutos do Stanley & Livingstone, existe uma propriedade, o Masuwe
Safari Lodge, sede do «The Lion Encounter». Trata-se de um
programa de conservação fundado em 1972 que cria leões
em cativeiro para depois os reinserir no seu habitat natural. O projecto
foi concebido para fazer face à situação de quase
extinção que os felinos atravessavam, por causa da caça
furtiva e de doenças (o número de leões no continente
africano decaiu drasticamente de 250 000 para 20 000).
As crias são retiradas às mães com três semanas
– e desde cedo vêem no tratador a figura materna. Após
a adaptação inicial, os felinos são ensinados a matar
e, ao fim de dois anos e meio, são devolvidos ao seu meio selvagem
de origem. Estes passeios com os felinos são uma das fontes de
financiamento do projecto. Andar com os leões, à solta,
sem trelas nem grades de permeio, é a experiência que se
oferece aqui. E acredite, a adrenalina de estar a dois metros ou menos
de um leão (ainda que tenha 11 meses, o que já corresponde
a um tamanho respeitável…) é uma sensação
que vale a pena experimentar. Os tratadores fazem o ‘briefing’
de segurança. Uma vara comprida é dada a cada um dos participantes,
para o caso de algo correr mal e os leões investirem na nossa direcção.
Nessa altura, devemos levantar os braços, com o pau, para parecermos
maiores e mais ameaçadores, e soltarmos um grito, com confiança.
«Sobretudo não corram nem mostrem medo, porque eles sentem
isso». Trocamos olhares de dúvida, franzimos sobrancelhas…
Se calhar isto não foi lá grande ideia, penso para com os
meus botões…
«Não se aproximem pela frente, porque eles interpretarão
isso como um ataque, e não lhes façam festas no focinho
ou nas orelhas, porque eles não gostam. Também não
se ajoelhem ao pé deles nem se baixem demasiado, porque eles poderão
interpretar isso como sinal de fraqueza e atacar. Preparados?» Risos
nervosos. Dois leões são soltos, e caminham agora livremente,
pelo mato, à nossa frente e no meio de nós. Há sempre
uma pessoa com uma carabina, por motivos de segurança. «Vamos
até ao rio brincar», diz o tratador. Os leões detêm-se
numa árvore, aguçam as garras. Depois, caminhamos em direcção
do rio. Os animais brincam um com o outro, bebem água, aproximam-se.
Chega a hora da verdade. Um leão deita-se no capim e o tratador
pergunta: «Quem é que quer fazer festas?» Vamos lá.
«Aproxime-se com confiança!». Dou a volta por trás
do animal, passo-lhe a vara pela frente do focinho, e finalmente…
a mão no lombo. Incrível…! É uma sensação
quase impossível de descrever…
Depois de tanta adrenalina, descarregamos a tensão num agradável
passeio de barco pelo Zambeze, para ver o sol pôr-se no rio. À
noite, espera-nos um jantar tradicional no ‘Boma’, o restaurante
do Victoria Falls Safari Lodge, com comida típica, cantares e danças
locais. Um ‘boma’, no Zimbabwe, como no Sul de África,
é um espaço ao ar livre com fogo no centro, à volta
do qual se come.
O restaurante é um pouco turístico para o nosso gosto, mas
vale por três motivos: pela comida, que inclui iguarias como cauda
de crocodilo, bife de impala, javali, ou ‘mopani worms’ (isso
mesmo, minhocas vendidas a peso de ouro em Paris, que dão direito
a certificado aos destemidos que as conseguirem comer). Pelas danças
e os cânticos – que a dada altura, têm a virtude de pôr
um djambé no colo de cada conviva, dando origem a uma grande festa,
com todos a tocar. Pelos artesãos que ali se encontram e…
pelo feiticeiro. Um feiticeiro de penas na cabeça e à cintura,
com uma ‘cabaninha’ para a qual entramos, onde lê a sina
atirando ossos. A consulta custa um dólar e não dura mais
de cinco minutos. Como jornalista que se preze tem de experimentar para
poder contar, lá entrei no cubículo do ‘shaman’.
O que é ele disse? Também não podem querer saber
tudo…
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TODOS OS TEXTOS
© KATYA DELIMBEUF
[ NOTAS
CURRICULARES ] [ CONTACTOS
]